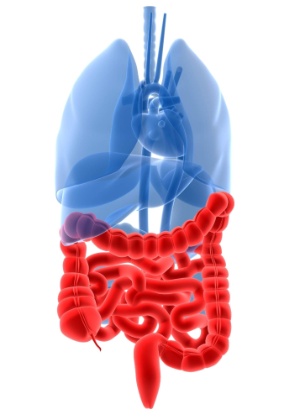Os restos mortais de 24 mil anos de um garoto encontrado na aldeia siberiana de Mal’ta acrescentaram uma nova raiz à árvore genealógica de americanos nativos. Enquanto a origem de alguns ancestrais dos povos indígenas do Novo Mundo aponta claramente para o leste da Ásia, o genoma do menino de Mal’ta — o mais antigo que se conhece de todos os humanos modernos — mostra que até 30% dessa ancestralidade pode ser rastreada até a Europa.

Os resultados indicam que pessoas aparentadas com eurasianos ocidentais se dispersaram bem mais para o leste que se suspeitava e viveram na Sibéria durante os períodos mais frios da última Era do Gelo.
“Em algum momento no passado, um ramo de asiáticos orientais e outro de eurasianos ocidentais se conheceram e tiveram muitas relações sexuais”, afirma o paleogeneticista Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, que liderou o sequenciamento do genoma do garoto. Essa miscigenação deu origem aos americanos nativos como nós os conhecemos, no sentido das populações das Américas do Norte e do Sul que os antecederam, explica. Os resultados obtidos por sua equipe foram publicados em 20 de novembro no site da revista Nature.
Em2009, aequipe de Willerslev viajou para o Museu Estatal Hermitage,em São Petersburgo, onde havia obtido permissão para coletar uma amostra de DNA de um dos ossos de um dos braços do menino de Mal’ta. “Esperávamos que ele pudesse nos revelar algo sobre o povoamento primitivo das Américas, mas isso realmente foi uma aposta arriscada”, diz ele.
Os pesquisadores descobriram que o DNA mitocondrial do garoto — as organelas que processam a energia de células vivas — pertencia a uma linhagem chamada haplogrupo U, encontrado na Europa e na Ásia ocidental, mas não na Ásia oriental, onde o corpo do menino foi descoberto. O resultado foi tão bizarro que Willerslev presumiu que sua amostra tinha sido contaminada com outro material genético, levando-o a suspender o projeto por um ano.
Ancestralidade antiga
No entanto, o DNA nuclear do garoto, a maior parte de seu genoma, contou a mesma história. “Geneticamente, essa pessoa não tinha nenhuma semelhança com asiáticos orientais, mas se parecia com europeus e com os povos da Ásia ocidental”, observa Willerslev. “O que realmente foi impressionante é que havia “assinaturas” (características) que só se veem em americanos nativos da modernidade”. Como esses sinais são consistentes entre os povos de todas as Américas, isso implica que ele não pode ter vindo de colonos europeus que chegaram depois de Cristóvão Colombo. Em vez disso, eles devem refletir uma ancestralidade muito antiga.
O genoma do menino de Mal’ta mostrou que os americanos nativos podem traçar de 14% a 38% de sua ascendência até a Eurásia ocidental, concluem os autores.
“Há 24 mil anos a distribuição de linhagens genéticas deve ter sido muito diferente da atual”, argumenta Jennifer Raff, uma antropóloga e geneticista da University of Texas em Austin. “Seria muito interessante ver o aspecto de outros genomas desse período”.
A equipe de Willerslev sugere que depois que os ancestrais dos americanos nativos se separaram dos povos de leste asiático, eles rumaram para o Norte. Em algum lugar da Sibéria eles teriam encontrado outro grupo de pessoas que vinham do leste da Eurásia ocidental, justamente o povo ao qual pertencia o garoto de Mal’ta. Os dois grupos se misturaram e seus descendentes posteriormente rumaram para o leste e entraram na América do Norte.
Novas origens
“Nós já tínhamos fortes evidências de uma ancestralidade siberiana para os nativos americanos; esse estudo é importante porque ele nos ajuda a entender quem poderiam ter sido os ancestrais daqueles siberianos”, explica Raff.
A nova história de origem ajuda a desvendar várias peculiaridades arqueológicas do Novo Mundo. Os crânios antigos encontrados nas Américas do Norte e do Sul, por exemplo, têm características que não se parecem com as de asiáticos orientais. Além disso, essas pessoas pertenciam ao haplogrupo mitocondrial X, associado às linhagens eurasianas ocidentais, mas não às asiáticas orientais.
Com base nessas características, alguns cientistas sugeriram que os nativos americanos eram descendentes de europeus que navegaram através do Atlântico rumo ao oeste. Mas Willerslev contra-argumenta: “você não precisa de uma hipótese tão extrema”. Estas características fazem sentido quando você considera que os americanos nativos tinham algumas raízes da Eurásia ocidental.
“Ainda há um debate sobre se houve uma única expansão dos grupos humanos que entraram nas Américas ou mais de uma”, observa Theodore Schurr, um antropólogo da University of Pennsylvania em Filadélfia. “Os dados desse artigo apóiam um cenário de migração única”, diz ele, mas ainda permitem vários outros movimentos sequenciais do mesmo patrimônio genético siberiano miscigenado.